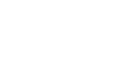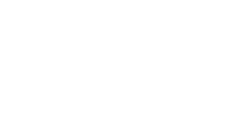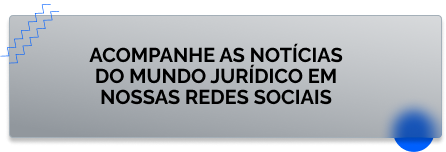1. A era do Constitucionalismo Digital
Entende-se que o Constitucionalismo Digital corresponde, de forma abstrata, a uma corrente teórica do Direito Constitucional contemporâneo que se organiza a partir de prescrições normativas comuns de reconhecimento, afirmação e proteção de direitos fundamentais no ciberespaço (1).
É uma corrente oriunda dessa latente necessidade de proteção às liberdades individuais, passíveis de violação pelos diversos atores que transitam no espaço virtual.
A proposta conceitual do Constitucionalismo Digital revela-se louvável, na medida em que a atividade privada de organismos virtuais demanda prescrições regulatórias capazes de assegurar direitos e estabelecer limites.
Isso implica reconhecer que direitos clássicos, como a dignidade da pessoa humana, a liberdade de expressão, a participação política e a tutela da honra, não podem ser esvaziados diante das novas demandas da sociedade digital.
Ao mesmo tempo, torna-se indispensável conferir efetividade a direitos emergentes, como o acesso à internet, a neutralidade da rede, a proteção de dados pessoais, de modo a harmonizá-los com o catálogo tradicional de garantias constitucionais.
Em virtude dessa natureza peculiar das relações sociais travadas no ambiente online, emerge a importância de um corpo normativo robusto na realidade brasileira.

2. Ambiente virtual e direitos
O amplo acesso à internet alterou substancialmente a concretização da liberdade de expressão por meio das redes sociais.
Nesse contexto, destaca-se também, a participação popular viabilizada pela internet, que ampliou o espaço público deliberativo, fortaleceu o fundamento do pluralismo político previsto no Art. 1º da CRFB/88, e potencializou o exercício de direitos, permitindo maior interação entre cidadãos e o próprio Estado.
Com isso, surgiram novos desafios não mais apenas relacionados ao acesso à informação, mas também ao conteúdo publicado pelos usuários, sobretudo discursos ofensivos e extremistas.
3. Problemática do discurso de ódio e do discurso extremista
Se por um lado a internet potencializou a liberdade de expressão e ampliou o espaço de participação política e social, por outro, tornou-se também terreno fértil para a propagação do chamado discurso de ódio (hate speech) e de manifestações extremistas.
Tais condutas não se limitam a ofensas individuais à honra, mas assumem caráter coletivo e estrutural, voltando-se contra grupos sociais vulneráveis em razão de raça, religião, orientação sexual, identidade de gênero, origem ou posição política.
Ressalta-se que essas manifestações criminosas não incluem-se em um âmbito de proteção correspondente à parte da realidade que a Constituição realmente decidiu proteger como direito fundamental.
Ao contrário, são transgressões passíveis de responsabilização civil e administrativa, em conjunto ou alternativamente, com outros textos normativos que visam coibir práticas discriminatórias e proteger a dignidade da pessoa humana, como a Constituição Federal, a Lei nº 7.716/1989, o Código Penal e até mesmo a Lei nº 11.340/2006.
A liberdade de expressão sofre recuo quando o seu conteúdo puser em risco uma educação democrática, livre de ódios preconceituosos e fundada no valor intrínseco de todo ser humano. Num contexto que estimule a violência e explore grupos vulneráveis, inclusive de maneira comercial, a garantia constitucional tende a ceder ao valor prima facie prioritário, o qual leva-se em conta a justiça, o bom senso e a moderação (2).
À guisa de exemplo, uma lei que proíbe o uso de buzinas em frente a hospitais não tem como objetivo restringir a liberdade de expressão ou manifestação política. Sua finalidade imediata é proteger o sossego, a saúde e o funcionamento regular de estabelecimentos médicos.
Lei que proíbe o uso de outdoors em certas regiões, para preservar a visibilidade de áreas privilegiadas por motivos de segurança de tráfego ou paisagísticos, não atrairá uma imediata uma interpretação de censura ou inconstitucionalidade.
Procede-se, nesses casos, a uma concordância prática entre valores em conflito, para assegurar a legitimidade da lei que tem por efeito colateral a interferência sobre o exercício da liberdade de expressão.
Trata-se de uma restrição administrativa razoável, voltada à proteção de bens jurídicos coletivos, como a segurança no trânsito e a preservação ambiental, sem impedir que o conteúdo da mensagem seja divulgado por outros meios permitidos.
O discurso de ódio é um exemplo prático disso. Ao incitar hostilidade e violência, a esfera da mera manifestação de opinião e a liberdade de expressão é ultrapassada de tal forma que coloca em risco valores constitucionais caros como a dignidade da pessoa humana, a igualdade e a pluralidade democrática.
Nesse sentido, diferentemente das manifestações críticas que se inserem nesta garantia, o discurso extremista digitaliza a intolerância, estimula práticas discriminatórias e compromete a convivência democrática no espaço público virtual, demandando respostas proporcionais e eficazes, para conter seus efeitos nocivos.
5. Contexto jurídico-normativo atual
5.1 Entendimento do STF
O STF assentou que incitar a discriminação racial, por meio de ideias antissemitas, “que buscam resgatar e dar credibilidade à concepção racial definida pelo regime nazista, negadoras e subversoras de fatos históricos incontroversos como o holocausto, consubstanciadas na pretensa inferioridade e desqualificação do povo judeu”, constitui crime, e não conduta amparada pela liberdade de expressão, já que nesta não se inclui a promoção do racismo. (3).
Em uma de suas decisões, reafirmou a premissa ao condenar um líder religioso pelo crime de racismo (art. 20, §2º, da Lei nº 7.716/89) em caso de discursos de ódio público contra outras denominações religiosas e seus seguidores. (4)
Contra o discurso de ódio, há de se considerar, ainda mais, o efeito inibidor dessas práticas à plena participação dos grupos discriminados em diversas atividades da sociedade civil.
A reiterada desqualificação que o discurso de ódio provoca, gera um efeito corrosivo sobre a autoridade dessas vítimas nas discussões de que participam, ferindo a finalidade democrática que inspira a liberdade de expressão (5).
Ou seja, não apenas ofende, mas desestrutura a promoção de um espaço plural e inclusivo, em que a participação de todos os cidadãos seja efetivamente respeitada.
O abuso da liberdade de manifestação, situa fora da esfera de proteção da garantia constitucional, podendo atrair repressão e responsabilização que é plenamente compatível com o Estado Democrático de Direito.
5.2 Como essa temática se desenvolve no contexto digital?
Guilherme Souza Nucci ensina que novos caminhos, advindos da moderna tecnologia, criam outros veículos para se externar uma ofensa. (6)
Torna-se relativamente simples identificar a autoria de uma ofensa veiculada por um e-mail ou uma mensagem enviada de uma pessoa a outra, dado o caráter direcionado e restrito da comunicação.
O problema, contudo, ganha contornos mais complexos quando a manifestação ocorre em redes sociais, em razão da ampla difusão das mensagens, da possibilidade de compartilhamentos sucessivos e da dificuldade em delimitar o alcance desses discursos.
Nesses casos, não se pode descartar que a configuração de crimes de ódio, extremistas e os que são proferidos contra a honra individual, encontram no ambiente digital um terreno fértil para a multiplicação e perpetuação de seus efeitos.
Em sites como o Facebook ou Instagram, existe uma falsa sensação de liberdade em falar abertamente de tudo e de todos, por vezes com palavras de baixo calão e transmitindo fatos falsos e degradantes.
Contudo, é perfeitamente possível a configuração de um crime numa postagem ou qualquer outro ambiente virtual similar.
Como destaca o artigo, Liberdade de expressão ou responsabilidade digital? O papel do jurista nas redes sociais, o cidadão é livre para se manifestar, mas deve responder pelos excessos cometidos, especialmente quando ofende, desinforma ou incita a violência, seja através de qualquer veículo que se utilize.

5.3 Mas como fica a responsabilização dos provedores de aplicações por conteúdos que configuram crime ou ilícitos gerados por terceiros?
O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014), que instituiu princípios, garantias e deveres para o uso da rede, é uma ferramenta essencial nesses casos que envolvem responsabilização digital.
Com base no art. 19 do MCI, o provedor só pode ser responsabilizado após ordem judicial específica com prazo específico que determine a remoção de cada conteúdo apontado.
Na prática, o resultado disso foi uma série de situações que demonstraram evidentemente uma ineficácia normativa, pois era necessário um processo judicial para cada conteúdo ofensivo, representando um mecanismo lento e burocrático, haja vista a rápida disseminação através dos compartilhamentos.
O art. 21, por sua vez, traz uma regra diferente. O provedor de internet poderá ser responsabilizado se alguém publicar nesta plataforma uma foto, vídeo ou qualquer material íntimo sem autorização da pessoa envolvida. Nesse caso, a plataforma tem o dever de retirar o conteúdo após receber uma simples notificação extrajudicial, sendo a responsabilidade subsidiária: primeiro se responsabiliza quem publicou, mas o provedor também pode responder se não agir.
Contudo, após o julgamento do RE 1.057.258/MG (Tema 533) e RE 1.037.396/SP (Tema 987), ambos de 27/06/2025, o STF declarou a inconstitucionalidade parcial e progressiva do art. 19 do MCI, modulando sua aplicação.
Decidiu que, na verdade, há um estado de omissão parcial do legislador na edição de regras complementares que pudessem trazer maior efetividade às regras que visam proteger os bens jurídicos previstos constitucionalmente.
Reconheceu que a inconstitucionalidade tem caráter progressivo, na medida em que cabe ao Congresso Nacional suprir as lacunas existentes na norma para atender ao que realmente acontece nas problemáticas envolvendo a responsabilização digital dos provedores e direitos fundamentais.
O art. 19 continua válido e da mesma forma aplicável em relação aos crimes contra a honra, havendo ainda necessidade de ordem judicial para responsabilizar a plataforma, por, na sua concepção, envolver situações de avaliação subjetiva que devem ser observadas caso a caso. Decidiu por não estabelecer um dever do provedor de retirar o conteúdo.
Contudo, o interessado não precisará mais ingressar com uma nova ação judicial para cada caso. Se já houver uma decisão declarando aquele conteúdo ilícito, todas as plataformas do mesmo provedor ou não, serão obrigadas a remover versões idênticas do mesmo material, bastando notificação extrajudicial ou judicial, não havendo necessidade de uma nova ordem judicial. (7)
Uma novidade pertinente será acerca da aplicação da regra do art. 21. O STF decidiu que o art. 21 do MCI deverá ser aplicado também para:
- qualquer conteúdo que constitua crime ou ato ilícito;
- contas denunciadas como inautênticas (contas falsas) tendenciosas à práticas de crime.
Como exemplo, uma postagem contendo conteúdo racista ou discriminatório é denunciada pelos usuários para a rede social. Nesse contexto, a mera notificação ou conhecimento pela plataforma de que determinado conteúdo é criminoso e ilegal, acarreta o dever de tomar providências e de remover a postagem do seu âmago.
Caso não remova o conteúdo, a empresa poderá ser condenada a indenizar as vítimas assim como ocorreria se descumprisse uma ordem judicial.
Conforme ensina Uadi Bulos, as leis do Marco Civil da Internet desempenham um papel de bússola norteadora de soluções de conflitos digitais. (8)
A ausência da sua complementaridade e efetiva regulação acarreta graves prejuízos aos direitos e garantias fundamentais, e estimulam a perpetuidade de discursos extremistas que se mascaram como legítimos pela garantia da liberdade de expressão. Essa prática tem sido objeto de preocupação do Poder Judiciário, que já adotou diversas medidas e providências emergenciais temporárias para seu enfrentamento.
A crescente manifestação pública nas redes digitais, a necessidade de contenção de discursos de ódio e outros crimes, as consequências nocivas da ausência de uma regulação efetiva e promissora nesse espaço, são exemplos de como o Constitucionalismo Digital ainda vai influir de maneira contínua na vida e no funcionamento das instituições no cotidiano de nosso tempo.
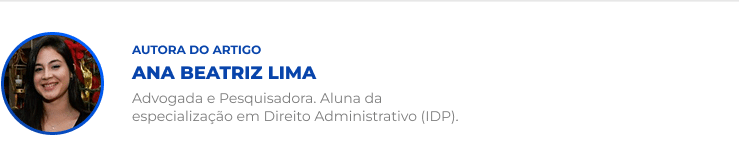
Referências
(1) MENDES, Gilmar Ferreira; FERNANDES, Victor Oliveira. Constitucionalismo digital e jurisdição constitucional: uma agenda de pesquisa para o caso brasileiro. Revista Brasileira de Direito, Passo Fundo, v.16, n. 1, p. 1-33, jan./abr. 2020.
(2) Branco, Paulo Gustavo, G. e Gilmar Mendes. Curso de Direito Constitucional – Série IDP – 19ª Edição 2024. Disponível em: Grupo GEN, (19th edição). Grupo GEN, 2024
(3) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. HC 82.424/RS. Rel. p/ o acórdão Min. Maurício Corrêa. DJ, Brasília, 19 mar. 2004
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. RHC 146.303/SP. Rel. Min. [necessário confirmar o relator exato]. DJe, Brasília, 7 ago. 2018.
(4) BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Primeira Turma. RHC 134.682/BA. Rel. Min. Edson Fachin. Julgado em 29 nov. 2016.
(5) Cf. Gilmar Ferreira Mendes et al., Hermenêutica constitucional e direitos fundamentais, Brasília: Brasília Jurídica, 2002.
(6) NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal vol. 3. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019.
(7) CAVALCANTE, Márcio André Lopes. Responsabilidade dos provedores de aplicações de internet por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros. Buscador Dizer o Direito, Manaus. Disponível em: https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/13917/responsabilidade-dos-provedores-de-aplicacoes-de-internet-por-danos-decorrentes-de-conteudo-gerado-por-terceiros. Acesso em: 03/10/2025 – 16:27
(8) Bulos, Uadi L. Curso de Direito Constitucional – 17ª Edição 2025. Disponível em: Grupo GEN, (17th edição). Grupo GEN, 2025.
BRASIL. Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 6 jan. 1989.
BRASIL. Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014. Estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da Internet no Brasil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 24 abr. 2014.
BRASIL. [Constituição (1998)]. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Presidente da República, [2016]. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 de set. 2024.