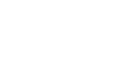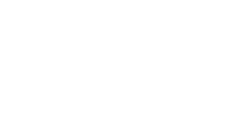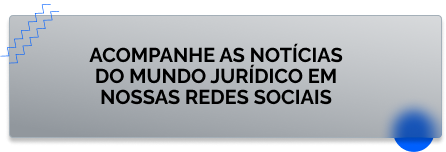A judicialização da saúde é um dos fenômenos marcantes em nosso país. Isso porque ela reflete a tensão entre o direito individual à saúde, garantido pela Constituição, e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde (SUS).
Mas o que está por trás desse fenômeno e quais são as soluções possíveis?
Neste texto, quero explorar com você essas questões.
Para começar: o que é a judicialização da saúde?
Em linhas gerais, a judicialização da saúde ocorre quando cidadãos recorrem ao Poder Judiciário para assegurar o acesso a medicamentos, tratamentos ou procedimentos médicos que não estão disponíveis de forma acessível ou adequada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) ou por planos de saúde privados.
Se observarmos, a judicialização da saúde ganhou muita força nas últimas décadas.
Pense nos casos de pacientes que solicitam judicialmente medicamentos de alto custo que não estão incluídos nas listas oficiais do SUS, como o RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).
O que acontece é que esses medicamentos são necessários para o tratamento de doenças raras ou crônicas, e quando o sistema público nega tais medicamentos, os cidadãos buscam, por intermédio de decisões judiciais, o acesso a tais tratamentos.
Outro exemplo relevante é o de negativa de cobertura, por parte de planos de saúde privados, para procedimentos específicos, como cirurgias ou terapias experimentais.
Nestes casos, os usuários também ajuizaram ações judiciais para garantir que seus tratamentos sejam custeados pelos planos de saúde.
Em linhas gerais, a judicialização da saúde é uma espécie de ferramenta utilizada para corrigir falhas no sistema.
O problema é que esse “excesso de demandas” levanta alguns questionamentos!
O mais comum é: quais os limites da intervenção judicial em políticas públicas, especialmente quando há restrições orçamentárias e técnicas envolvidas?
O que está em discussão com a judicialização da saúde?
O primeiro aspecto que costuma ser analisado é o prisma constitucional.
É a própria Constituição Federal de 1988 que estabelece, no artigo 196, que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado.
Ou seja, trata-se de um direito fundamental, garantido na própria constituição.
Ocorre que, a insuficiência de políticas públicas efetivas e a falta de recursos para atender toda a demanda geraram ainda mais desigualdades no acesso à saúde.
Por outro lado, os avanços na medicina e a disponibilidade de novos medicamentos de alto custo ampliaram as expectativas da população para a realização de um tratamento eficiente.
No meio desse debate nasceu o fenômeno da judicialização, já que muitos pacientes recorreram ao Judiciário para assegurar tratamentos médicos que, de outra forma, seriam inacessíveis.
Logo, qualquer cidadão pode buscar o Judiciário para garantir o acesso a tratamentos e medicamentos necessários para sua saúde, especialmente quando o SUS ou planos de saúde não atende essas demandas.
A partir dessa tese, aconteceu um “boom” no ajuizamento de demandas.
Outro ponto crucial é a lacuna entre as diretrizes administrativas e a realidade vivenciada pelos pacientes.
A título de exemplo: enquanto a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) avalia rigorosamente a eficácia e o custo-benefício de medicamentos antes de incluí-los na lista do SUS, muitos pacientes em situação crítica não podem esperar pelos prazos estabelecidos para essas análises.
Qual a realidade vivenciada pelos usuários do SUS?
Para entender a judicialização da saúde, é essencial considerar a realidade enfrentada pelos usuários do SUS.
O sistema, apesar de ser uma das maiores iniciativas de saúde pública do mundo, enfrenta desafios diários, como filas extensas para consultas e procedimentos, falta de medicamentos e infraestrutura inadequada em algumas regiões.
Um exemplo comum é a dificuldade de acesso a tratamentos especializados.
Pacientes com doenças crônicas, como diabetes ou hipertensão, muitas vezes relatam atrasos no fornecimento de medicamentos essenciais.
Além disso, regiões mais afastadas enfrentam carência de profissionais de saúde, o que agrava ainda mais as desigualdades no atendimento.
A experiência de quem utiliza o SUS revela a importância de políticas públicas mais robustas e de investimentos em infraestrutura e capacitação.
Na prática, melhorar a comunicação, reduzir a burocracia e garantir um atendimento humanizado são passos fundamentais para minimizar as lacunas que levam à judicialização da saúde.
Importante decisão do Supremo
Recentemente, o Supremo Tribunal Federal (STF) delineou critérios objetivos para a concessão judicial de medicamentos ainda não incorporados ao Sistema Único de Saúde (SUS).
O julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 566.471, amplamente conhecido como Tema 6 de repercussão geral, marcou um avanço significativo ao consolidar regras que buscam harmonizar o direito constitucional à saúde com os complexos desafios financeiros e administrativos enfrentados pelo SUS.
O caso do tema 6 de Repercussão Geral
A pauta do julgamento envolveu um pedido para que o Estado fornecesse um medicamento de alto custo a um paciente cuja sobrevivência dependia diretamente desse tratamento.
Contudo, o remédio não estava incluído nas listas de medicamentos ofertados pelo SUS, como o RENAME (Relação Nacional de Medicamentos Essenciais).
A partir desse caso, o Supremo foi chamado a decidir essa complexa questão.
No julgamento, o STF definiu recentemente que, para que a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS seja possível, o autor da ação deve comprovar cumulativamente os seguintes requisitos:
- Negativa administrativa: O medicamento deve ter sido formalmente recusado pelo SUS. Ou seja, é necessário que o paciente demonstre que esgotou as vias administrativas antes de buscar o Judiciário.
- Ilegalidade ou omissão: Deve haver evidência de que a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec) foi omissa, retardou excessivamente a análise do medicamento ou agiu de forma ilegal ao decidir pela sua não inclusão nas listas. Aliás, essa análise deve observar os prazos e normas da Lei nº 8.080/1990.
- Insubstituibilidade: O medicamento solicitado deve ser insubstituível, de modo que, não pode haver alternativas terapêuticas disponíveis no SUS que atendam às necessidades do paciente.
- Evidências científicas: A eficácia, segurança e efetividade do medicamento devem ser comprovadas com base em estudos científicos de alto nível, como ensaios clínicos randomizados e revisões sistemáticas. Essa exigência reforça a importância da medicina baseada em evidências.
- Imprescindibilidade clínica: Um laudo médico detalhado e fundamentado é essencial para comprovar que o medicamento é indispensável ao tratamento do paciente. O laudo deve descrever os tratamentos anteriores e justificar por que outras opções não são adequadas.
- Comprovação de incapacidade financeira: Cabe ao autor demonstrar que não tem condições de arcar com os custos do medicamento sem comprometer sua subsistência ou de sua família.
O Papel do NatJus
Um dos destaques da decisão foi a recomendação de que os magistrados consultem o Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário (NatJus) antes de decidir.
O NatJus oferece pareceres baseados em evidências científicas, contribuindo para decisões mais fundamentadas e alinhadas às melhores práticas médicas.
Tal medida previne decisões precipitadas e assegura que os recursos públicos sejam usados de forma eficiente.
Por que investir em especialização no Direito da Saúde?
A judicialização da saúde no Brasil tem apresentado desafios que vão além do campo jurídico tradicional.
Questões como o acesso a medicamentos de alto custo, o impacto da regulação de planos de saúde e a aplicação de normas éticas em contextos bioéticos são exemplos de situações que demandam soluções sofisticadas e bem fundamentadas.
Ademais, o avanço de legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), especialmente no setor de saúde, amplia a necessidade de profissionais preparados para lidar com aspectos técnicos que impactam diretamente na vida dos pacientes e nas atividades de empresas e órgãos públicos.
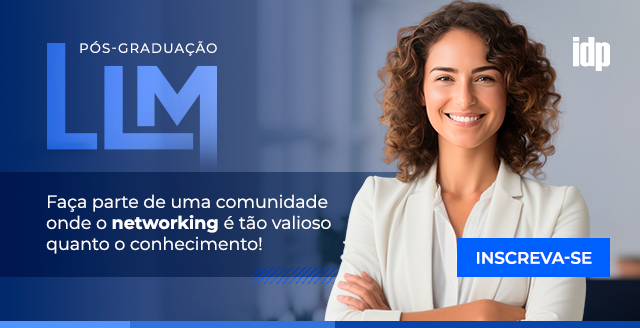
Inscreva-se no LLM do IDP em Direito da Saúde
O Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP) oferece o programa LLM em Direito da Saúde que se destaca pela abordagem inovadora e multidisciplinar.
Voltado para advogados, gestores públicos e outros profissionais do setor, o curso proporciona o conhecimento necessário para lidar com os desafios contemporâneos da saúde.
Com um corpo docente composto por especialistas renomados, o programa cobre uma ampla gama de temas, como:
- Judicialização da saúde e soluções alternativas de conflito;
- Regulação de planos de saúde e políticas públicas;
- Bioética e responsabilidade civil de profissionais e instituições de saúde;
- Impactos da LGPD no setor de saúde;
- Tendências tecnológicas e novos paradigmas jurídicos.
Em um setor marcado por constantes inovações e mudanças, especializar-se é a chave para se destacar e transformar desafios em oportunidades.
Invista em sua formação e esteja preparado para liderar as mudanças no direito da saúde. Garanta sua vaga no programa LLM do IDP e comece agora a trilhar o caminho da excelência profissional.

Referências bibliográficas
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm.
BRASIL. Lei n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Recurso Extraordinário 566.471. Tema 6 da Repercussão Geral. Disponível em: https://portal.stf.jus.br/.